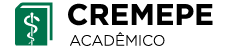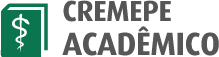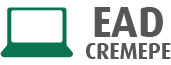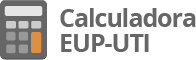A gaúcha Magali passara os últimos cinco dos seus 30 anos rezando pela mesma cartilha. “O crack é o meu pastor e nada me faltará”, disse ela, parafraseando os primeiros versos bíblicos do Salmo 23, no nosso primeiro encontro em 2011.
A gaúcha Magali passara os últimos cinco dos seus 30 anos rezando pela mesma cartilha. “O crack é o meu pastor e nada me faltará”, disse ela, parafraseando os primeiros versos bíblicos do Salmo 23, no nosso primeiro encontro em 2011.
Devota das pedras que resultam de misturas variadas da pasta de cocaína, ela vagava pela cracolândia paulistana desde 2006.
No início da manhã daquele 12 de maio, ela se espreguiça ao despertar sobre um colchonete roto. Sobrevivera a mais uma madrugada dividindo uma das tantas calçadas que lhe serviram de leito nos últimos tempos.
A turma maltrapilha começa a se dispersar. Entre sonolenta e arredia, Magali vai, aos poucos, entrando no papo. “Não gosto de reportagem”, avisa, sem rodeios.
Fecho o bloco de notas e estendo a mão: “Eu me chamo Eliane Trindade. Sou jornalista e trabalho para um jornal chamado Folha de São Paulo”.
Ela devolve a bola na mesma toada: “Eu me chamo Edna Magali, já me esqueci quem eu sou e faz um tempão que trabalho pro crack”. Risos e um longo aperto de mão.
Estava selada, com toques de ironia e humor, uma empatia que fez da Gaúcha, como Magali é mais conhecida pelos colegas de “trampo”, personagem desta crônica.
Pergunto se ela me concede uma entrevista. Marca para depois do banho e do café da manhã. Faz fila, junto com outros usuários de crack, à porta da Cristolândia, missão da igreja Batista que atua na área.
Retorna 45 minutos depois e se esparrama no colchonete. Cruza as pernas e monopoliza a conversa. Leva um lero com “noias” que também filaram o “rango dos crentes”.
Magali fica mais tempo conversando com Alemão, um dos “radicais”, como são chamadas os ex-usuários que viraram missionários e tentam convencer a galera a trocar crack por Cristo.
MENOS SERMÃO
Ela lavou os cabelos tingidos de louro e trocou de roupa -pegou uma muda nova na montanha de peças doadas pelos evangélicos. Jogou os trapos sujos que usava “não sei há quantos dias” no lixo.
Revigorada pelo banho quente e pela cafeína, participa do culto. “Gosto das músicas, mas o sermão me deixa mal.”
É quase meio-dia quando nos sentamos no bar da esquina da rua Barão de Piracicaba, no centro de São Paulo. Magali pede dinheiro para dar entrevista. Explico que nem eu nem o jornal pagaríamos para ter o seu depoimento. Ela conta que ganhou R$ 10 de um produtor de tevê. “É uma ajuda, né? Descolei duas pedras. Do contrário, ia pra viração: R$ 5 por um programa básico. Os caras me zoaram. Fui pra cima de um que veio com gracinha dizendo que minha história valia mais do que eu.”
Ofereço coxinha e Coca-Cola, o mesmo que eu e o fotógrafo Apu Gomes, escalado para me acompanhar naquela reportagem, comemos na hora do almoço.
Com o estômago forrado e convencida de que não iria conseguir levar uma graninha da dupla, ela relaxa e desfia sua trajetória.
“Tava na noia e fiquei cinco dias direto sem comer. O crack tira o apetite e mata todos os desejos, menos o de buscar por mais pedra. Já roubei e me vendi por R$ 1 ou um farelo de crack. Já vi matar e quase morri. Fui estuprada não sei quantas vezes. Nada me fez parar.”
Magali aponta para a própria “carcaça” de 46 kg perdidos em seus 1,70 m. “Meu corpo não aguenta mais.”
Pele e osso, exibe inúmeras cicatrizes espalhadas por uma silhueta de “modelo anoréxica”. Sua passarela são as ruas do centro até então território livre para consumo e venda da “filha pobre e maldita” da cocaína.
Duas noites antes, ela conta ter rastejado por grãos de crack de péssima qualidade. Gaúcha destila um vocabulário rico, de quem concluiu o Ensino Médio em uma boa escola. Filha de uma família de classe média baixa, ela evita falar da vida pré-cracolândia.
PEREBOLÂNDIA
Naqueles dias, ganhava o noticiário a chegada do óxi, um crack batizado, logo apontado pela polícia e especialistas como mais letal e viciante.
Magali constata na carne outros malefícios não propalados: “Sai pereba pra todo lado. Esse crack de merda vai comendo a pele. É pra matar mesmo. Com esse óxi, a cracolândia vai virar “perebolândia”, profetiza.
Ela mostra feridas recentes e outras cicatrizadas. Marcas visíveis dos efeitos devastadores do crack no organismo e na vida. “Choro de saudade dos meus filhos, mas nem por eles fui capaz de sair dessa”, diz. Com olhos marejados, limita-se a informar a idade deles: 11, 9 e 6 anos.
Enquanto faz um breve inventário de perdas, vai contando as perebas nas pernas e no braço. “Olha aqui, cinco, seis, sete…” Pula uma cicatriz grande na barriga, grossa e mal costurada. É a pista de outras feridas. “Foi uma facada. Coisa de rua. Não gosto de lembrar.”
É melhor não insistir. “O que ficou pela estrada?”, indago. Ela fica muda por um tempo e repete como se dialogasse consigo mesma. “O que ficou pela estrada? Três filhos, a minha saúde, tantos amores e uma família cansada do que eu chamo de minhas dores e fraquezas e que para eles é só falta de vergonha na cara.”
Magali faz da sarjeta divã. “Odeio sermão de quem acha que como a gente tá dormindo imundo no chão não tem consciência do abismo É o contrário. Temos tanta que nos afundamos mais, justamente por saber o quanto é penoso sair.”
O caminho é de pedra: ela contabiliza internações, prisões por porte e consumo da droga, condenação por roubo. “Cada recaída é pior que a outra. Vem aquela angústia de que o crack ganhou mais uma. Até quando? Não sei.”
O começo, o meio e o fim são sempre o mesmo: alimentar um vício que a fez debutar nos perigos da estrada aos 15 anos.
Ela pede para não colocar no jornal o nome da sua cidade natal para não expor as crianças nem provocar a ira do ex-marido.
Da menina que se deixou seduzir pelo primeiro cigarro da maconha no Rio Grande do Sul à mulher que vira bicho na disputa por farelos de crack, Magali faz um balanço com a frieza de um auditor: “É perda total”.
Com um auto diagnóstico tão pouco animador, ela resolveu recorrer à Cristolândia. Dois dias antes, fizera uma ficha para conseguir vaga para sua terceira internação.
“Eu ficava vendo os crentes e ria deles. Até gritava pra todo mundo ouvir: “O crack é meu pastor e nada me faltará”. Agora, estou aqui, tentando o remédio deles. Só Deus mesmo, como eles dizem, um ser mais poderoso, para me tirar dessa. O bagulho é do outro mundo.”
NOVO RG
A Folha acompanhou por quase dois anos as idas e vindas de Magali em sua aposta de abandonar o crack tendo o Evangelho como remédio e Jesus como terapeuta.Quinze dias depois do nosso primeiro encontro, a devota do crack embarcou para Campos, no Rio de Janeiro. Em 26 de maio de 2011, trocou as noites ao relento por um leito numa clínica.
Exibia também uma segunda via do RG, obtida no Poupatempo dois dias antes. Na bagagem, Magali levava péssimas recordações de outras tentativas de tratamento, entre elas no serviço oferecido pela Prefeitura de São Paulo. “É muita burocracia. Tem que passar no psicólogo, confirmar que é dependente e ficar esperando. Nunca tem vaga. Quando tem, não funciona. Ninguém tá preocupado com a gente, só querem tirar os zumbis da rua. Só que o capeta manda um mensageiro e a gente volta pra cracolândia rapidinho.”
Dois meses antes, ela só aguentou dez dias numa clínica em Juquitiba, interior de SP, para onde foi mandada em sua primeira aproximação com a Cristolândia. “O bagulho lá era desorganizado. Não era uma clínica mesmo. A gente ficava lá sem ter o que fazer e eu logo arrumei briga”, relata. “Só sonhava com a droga.”
A cracolândia ganhou a parada e ela voltou para a velha rotina de prostituição e roubos. “Agora vai ser diferente. Fiz meus documentos e vou poder viajar para o Rio. Lá é uma comunidade terapêutica, vai ser melhor”, afirma, na véspera do embarque.
Uma paixão platônica faz sua confiança aumentar. Ela voltou a flertar com a Cristolândia, embalada por um novo amor. Alemão, também em tratamento, está em outra fase e trabalha agora como elo da missão com os usuários. “Ele tá limpo há mais tempo que eu. A gente namora, mas não pode beijar nem nada. Só vamos ficar quando eu também tiver limpa.”
Em 16 de junho, por telefone, Magali relata sua nova rotina. “Tô gorda, ou melhor, tô gostosa”, diz. Ganhou 12 kg em 20 dias. “Nos primeiros dias, só comia e dormia. Senti mais falta do cigarro do que do crack, mas fiquei firme.”
Interrompe a ligação e pede para uma terapeuta mandar uma foto dela para o meu celular. A foto impressiona. O rosto de Magali ganhou bochechas que rejuvenesceram as suas feições em uma década. Os cabelos estão alisados e negros. “Já sou outra pessoa, né? Por fora e por dentro.”
Conta ter enviado a foto também para Alemão. Os dois não se falam desde a partida de São Paulo. Ela me pede um favor: “Quando você encontrar com ele na Cristolândia diz que eu tô bem e com muita saudade e que a gente vai sair dessa junto”.
A adaptação na Comunidade Terapêutica Elcia Barreto Soares, em Campos (RJ), está sendo complicada. “Magali chegou muito agressiva, com hábitos de fora. Aqui não pode falar palavrão”, explica a missionária Roseana Pereira, responsável pela estrutura mantida pelos batistas. O local só acolhe mulheres, ao custo de R$ 300 mensais por paciente.
Ao se despedir, Magali pede: “Não me esquece, viu? Vou ficar aguardando você ligar de novo. Manda um beijo para o meu amor”. Faço as vezes de cupido. Alemão é reticente quanto ao envolvimento emocional e só diz: “Espero que dessa vez ela consiga encontrar a paz”.
CRISE DE ABSTINÊNCIA
No começo de setembro, em um novo contato telefônico, Magali passa uma certa tranquilidade na voz. “Não tive mais crise de abstinência de droga, só de liberdade. Mas tem que ser assim.” Ela segue a toada de comer, ler a Bíblia e fazer tarefas terapêuticas em grupo. “É legal, mas não aguento mais de saudade do meu amor.”
Já se passaram quase quatro meses de internação, ela tem pela frente outros três. Faz um balanço positivo: “Descobri que minha vida ainda vale a pena.” Faz planos de casar com Alemão na Cristolândia. Parece fácil, mas O que é mais difícil no processo? “O preconceito por eu ter vindo da cracolândia. Ter que lidar com os olhares de nojo e as desconfianças de todos por eu ter saído da rua. Quando você conta que veio da cracolândia, te tratam como verme. Pior do que lidar com a abstinência é encarar a seco a discriminação. Na noia é fácil. A gente é tudo bicho. Não pensa em nada, não sente frio nem dor.”
Das oito colegas de internação, ela e outra menina têm o mesmo perfil. “O preconceito só começou a ser superado com o convívio. Peço exemplos de algumas situações. “Prefiro não falar disso. É passado.”
Mais uma das tantas lembranças que quer esquecer. Nos falamos 20 dias antes de ela deixar a clínica, com a promessa de que ela vai me ligar do Rio, quando se instalar como missionária da Cristolândia, tendo como currículo a sua “cura do crack”.
E o futuro? “Eu ainda não tô pronta para reencontrar meus filhos. Tenho muito raiva dentro de mim. Às vezes, sou muito agressiva, me culpo muito. Acho que eu nunca vou me perdoar de verdade. Depois de 15 anos nesse buraco, não sobra muita coisa. Que droga é essa que faz uma mãe abandonar três filhos? Dá para imaginar a força dessa merda. Preciso dizer mais?”
RECAÍDA
Perdi o rastro de Magali por vários meses, logo depois sua saída da comunidade terapêutica. A internação durou sete meses e terminou antes do Natal, quando ela ainda chegou a fazer uma viagem missionária, relatando o seu caso em igrejas no Espírito Santo.
Ela frequentou a unidade da Cristolândia no centro do Rio por algum tempo. “Infelizmente, ela não está mais conosco. Voltou para as ruas”, relatou Diego Machado, coordenador da missão no Rio, em fevereiro de 2012.
Tentei localizá-la diversas vezes com a ajuda dos missionários. A última pista do seu paradeiro foi dada por um pastor que a visitara, em junho, em um hospital onde passou por uma cirurgia de emergência, após ser esfaqueada em uma briga de rua. Quando conseguir falar na enfermaria onde ficara uma semana, ela já tinha tido alta e voltado para as ruas.
O crack ganhara mais uma.
Um tempo depois, seria novamente internada com infecção generalizada. A última cicatriz não cicatrizou. Magali morreu em setembro de 2012. “Recebemos a notícia com tristeza, mas sem fazer julgamentos. Nossa luta continua. Mesmo que 10 mil caiam e apenas um se levante, nós não vamos desistir”, diz o pastor Humberto Marchado, da Cristolândia, em São Paulo.
Aos 33 anos, Gaúcha foi mais uma baixa na batalha contra o crack. “Eu não tenho medo de morrer, tenho medo de viver”, ela me disse quando nos despedimos às vésperas de sua saída da reabilitação. “Não me esquece, viu?”, foi o seu último pedido naquele telefonema.
Eliane Trindade é repórter da coluna “Mônica Bergamo” e foi editora da “Revista da Folha”. É autora do livro-reportagem “As Meninas da Esquina” e venceu o prêmio Ayrton Senna de Jornalismo com a reportagem “O que Eles Vão Ser Quando Crescer”. Neste espaço, mostra personagens e fatos dos dois extremos da pirâmide social, espalhando também nas redes sociais. Escreve às terças.
Fonte: Folha de São Paulo – por Eliane Trindade.